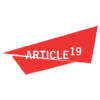Entrevista – Edison Lanza
Relator Especial da OEA para a Liberdade de Expressão, trabalhou como jornalista em diversos órgãos de comunicação, como consultor de organismos internacionais em temas de liberdade de expressão e direito à informação, advogado e docente universitário. Apresentou casos emblemáticos relacionados com o direito à liberdade de expressão ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e integrou, dirigiu e fundou várias organizações não governamentais de defesa do direito à liberdade de expressão. Formou-se em direito e cursou a pós-graduação em liberdade de expressão e lei penal na Universidade da República do Uruguai e faz o doutorado pesquisando os processos de regulamentação dos meios audiovisuais na região na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires.
Na última visita ao Brasil a CIDH chamou atenção para uma série de preocupações, principalmente relativas a possíveis violações de direitos das populações indígenas, quilombolas, exclusão social das pessoas sem teto, população carcerária, entre outras. De que maneira, na sua opinião, o processo de desinformação e o abuso do poder econômico nos meios eletrônicos e digitais contribuem com a manutenção da situação de violação de direitos humanos que a Comissão observou no país?
Me parece que há alguns problemas que são estruturais do sistema de meios de comunicação brasileiro e outros que tem a ver com a questão específica da Internet e o fenômeno da desinformação, que é mais recente. Claro que na conjuntura atual esses dois aspectos confluem. Com respeito ao primeiro aspecto, creio que o Brasil — dadas suas dimensões e sua riqueza e pluralismo ideológico, de perspectivas e estilos de vida — não tem um sistema de meios de comunicação suficientemente diverso e plural. Há uma alta concentração, por motivos históricos, na televisão, e, no rádio, uma forte presença de parlamentares e políticos que dominam o uso do espectro. Na televisão, como se sabe, há duas ou três cadeias predominantes. Isso incide porque o Sistema Interamericano determina que os Estados têm a obrigação de promover o pluralismo e as sociedades democráticas têm que ter uma diversidade de fontes de informação.
E quando há situações políticas polarizadas ou complexas (como a que vive o Brasil há cerca de dois ou três anos), uma concentração histórica tão forte da mídia permite que os meios de comunicação inclinem a balança da opinião pública de acordo com suas posições ou linhas editoriais. Isso é um problema estrutural que só vai ser corrigido quando as maiorias parlamentares estabelecerem alguns limites razoáveis à concentração e mecanismos de diversidade e pluralismo. Houve uma boa tentativa de se estabelecer uma televisão pública no país e saudamos essa iniciativa como positiva junto com o relator da ONU para a liberdade de expressão, mas notoriamente se avançou pouco em dar um estatuto legal de independência e autonomia do poder político a essa televisão. Ainda que houvesse um conselho de participação, ele estava muito vinculado ao governo. Agora que há um governo contrário à televisão pública começa a passar seu paulatino desmantelamento e há um risco de que haja um desmantelamento maior, portanto isso complexifica a situação. O Brasil não fez uma reforma do sistema de mídia razoável. E o que quero dizer com isso é uma reforma que busque ampliar as vozes: com novos meios privados, novos meios comunitários e com uma televisão pública forte. Além disso, a falta de pautas objetivas para a gestão da publicidade oficial, que dá ao governo uma ferramenta muito forte para incidir na mídia e tratar de privilegiar meios afins. Então, se foi possível se atingir certo pluralismo na mídia brasileira foi pela Internet e pelos meios eletrônicos como blogs e jornais internacionais como The Intercept, The New York Times, El País, entre outros. Esses meios, além de novos meios digitais, estão produzindo maior diversidade de fontes jornalísticas de informação.
Bom, no meio disso ocorre esse fenômeno da desinformação, que a relatoria e a missão da OEA, na última visita que fez ao país, reconheceu que teve um impacto nas eleições, ainda que não saibamos qual foi sua magnitude. O que sabemos é que ocorreu uma disseminação deliberada de informações falsas, sobretudo pelas redes sociais e WhatsApp, particularmente como algo novo no caso brasileiro. Até agora eram o Facebook e o Google (YouTube) os principais canais.
A chefe da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americano, Laura Chinchilla classificou como “sem precedentes” o que aconteceu no Brasil com relação ao uso das redes sociais, principalmente o WhatsApp.
Eu acho que essa estrategia já vinha sendo usada, por exemplo nas eleições dos Estados Unidos, no Brexit [plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia], na Colômbia, no México — ainda que nesse caso a distância entre os dois candidatos era tão grande que não houve possibilidade de se ter impacto. No Brasil, o que foi novidade para mim foi o uso de uma rede de mensagens, que não é uma rede aberta, mas é dedicada ao contato entre pessoas e grupos fechados, como o WhatsApp. E com uma intensidade em que certamente houve compartilhamento com uso de dados pessoais e setores privados que podem ter financiado campanhas a favor do candidato que finalmente ganhou, Bolsonaro. Se realmente houve esse tipo de situação — e é difícil medir quantas pessoas foram efetivamente afetadas ou influenciadas por essa campanha de desinformação — se trata de algo grave e ficamos realmente preocupados por esse fenômeno, porque distorce a capacidade de seleção e a tranquilidade que devem ter os eleitores para decidir.
Vocês acreditam que o que aconteceu no Brasil possa impactar em outros processos eleitorais na região? Há lições aprendidas ou recomendações para o uso dessas tecnologias em outros contextos?
Acredito que a lição que estamos vendo por parte da Comissão [Interamericana de Direitos Humanos], e inclusive por parte da OEA, é que se trata de um fenômeno que veio para ficar e o Sistema Interamericano tem que aborda-lo se quiser proteger a democracia. Isso é um assunto que temos claro. Em alguns dias vamos lançar uma iniciativa para gerar conhecimento e um guia de recomendações para os Estados e demais atores — como o setor privado e autoridades eleitorais. A Relatoria vai abrir um chamado para construir um painel de peritos independentes que possam ajudar a resolver esse problema e gerar conhecimento e recomendações a partir de um olhar regional sobre o problema. Esperamos que ele já esteja funcionando a partir do primeiro semestre de 2019.
Por outro lado, é necessário cuidado com a resposta que damos a esse fenômeno e isso vai ser parte do que queremos desenvolver junto a esse painel de peritos. Se bem queremos uma resposta, ela não pode implicar em censura ou gerar mecanismos de retirada de conteúdos em massa, porque as redes sociais são importantes para que os ativistas, militantes e a imprensa façam seu trabalho e acessem informações verídicas e relevantes. Respostas penais fortes ou de censura me parecem inadequadas. Será necessário trabalhar muito sobre a responsabilidade e os códigos de conduta das empresas, o novo papel que têm que desempenhar os órgãos eleitorais em estar alerta e atuar de forma ativa sobre o processo eleitoral — até o momento essa atuação era mais passiva. E acho que as redes de verificadores, agências de fact-checking, ONGs que trabalham com as plataformas em detectar informações falsas e alertar a tempo são importantes.
Outro ponto que me parece necessário é começar a alfabetizar a população. Não tem lógica que as pessoas passem grande parte das suas vidas on-line, mas não saibam como funciona a Internet, como identificar as fontes informativas mais confiáveis e verdadeiras, o que fazer quando encontrar uma notícia duvidosa ou uma informação falsa.
E há um fenômeno mais econômico, que tem a ver com os agentes que lucram com as notícias deliberadamente falsas. Temos que pensar em como podemos atacar isso e como as plataformas podem premiar o jornalismo tradicional, que investiga, adiciona valor e investe, ao invés de premiar meios que disseminam conteúdos falsos.
A Relatoria escreveu que foram 62 agressões físicas associadas à cobertura eleitoral no Brasil. Podemos dizer que essa polarização e o crescente interesse das pessoas em política nos diversos países gera riscos à liberdade de expressão e aos jornalistas?
Eu acho que estão se somando fatores muito perigosos. É evidente que o Brasil, se não é o país mais perigoso, é um dos países que registra nos últimos 15 anos taxas bastante elevadas de jornalistas assassinados, agredidos ou perseguidos — sobretudo em algumas regiões. E falta uma política de Estado integral para tratar do problema. Somente nos últimos dois anos é que os jornalistas passaram a compor a população passível de ser protegida pelos mecanismos de proteção existentes. Então há uma questão histórica aí. No então, estão se somando dois fenômenos.
Um deles é que há candidatos que atacam e desacreditam a imprensa. Principalmente quando ocupam cargos públicos e passam a ser parte do Estado ou quando aspiram a ocupar cargos públicos têm a obrigação de respeitar a Constituição e as convenções internacionais. Apesar disso, muitas vezes há um discurso estigmatizante. Isso está passando nos Estados Unidos e em outros países, aconteceu na América Latina com o caso de [Hugo] Chávez e [Nicolás] Maduro na Venezuela. E na nossa opinião, algumas declarações de [Jair] Bolsonaro como candidato foram preocupantes. Isso gera mais risco, porque evidentemente há fanáticos que estão dispostos a — quando um líder aponta um meio como desonesto — atacar esse meio ou esse jornalista. Em segundo lugar, observamos que há gente que abusa de tudo de positivo que propiciou a Internet para disseminar discursos estigmatizantes e ameaças por meio das redes sociais. Estamos falando de discursos contra jornalistas, principalmente mulheres, e as ameaças que começam no âmbito virtual rápida e facilmente passam para a vida real.